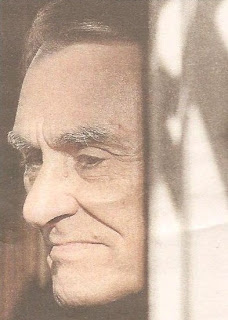(...) A manhã vai subindo no silêncio do largo e o viajante hesita. Já viu muitas aldeias com chalés desmedidos, já se comoveu com antigos balcões e alpendres ao abandono, já quis imaginar como era a vida passada, espreitando entre portas que há muito ninguém abre. Mas ainda não tinha sentido este peso no peito, que agora sente e não sabe explicar. Vê estas casas donde ninguém sai, e as ruas adormecidas no sono da manhã. Já encontrou aí velhas arquitecturas tratadas a preceito, de persianas corridas, ínfimas ilhas na fealdade geral. E acaba a concluir que algum saber antigo se perdeu aqui, um fio se rompeu.
Ao viajante cerca-o a aflição deste largo, que é mais que a solidão, é mais que o abandono. Mas graves hão-de ser as aflições deste padeiro, que acaba de chegar numa carrinha. O alarido da buzina foi crescendo rua fora até chegar ao largo, parecia alguém aflito por tirar o pai da forca, e era apenas ele a chamar as freguesas. Vieram cinco, por junto, e só se calaram as trombetas quando apareceu a primeira.
Vem da Prova, o padeiro, duas vezes por semana. Faz o seu giro aí pelas aldeias, tal como o carro da fruta, o da carne, o do peixe congelado. Meteu-se no negócio quando voltou de Moçambique, há muitos anos atrás, alguma coisa havia de fazer. E bem podia fartar meio mundo de pão, não fora o mercado escasso e tanta a concorrência. Outros vêm, doutros lados, que não dividiram territórios. Fazem as mesmas rotas, os dias é que alternam.
O viajante bem queria ouvir o homem sobre as passadas vidas africanas, lá tem as suas razões. Se era dono de machambas, ou cantineiro do mato, ou funcionário de alguma açucareira. Ou mesmo chefe dum posto qualquer. Nunca se sabe quando ficou lá para trás, enterrada na areia, uma garrafa de diamantes, como já temos visto. Mas o mestre vende pão e já partiu, que este serviço está feito e o resto falta fazer.
Ao contrário do que atrás prometeu, o viajante não voltará à rua de alcatrão. Vai até ao fundo do largo, onde encontra uma capela que já foi da Senhora da Assunção, e agora é um armazém de ferralhas domésticas. Daqui parte a avenida 25 de Abril.
O promissor topónimo, se já foi bandeira de tantas esperanças, apenas vem aqui alvoroçar contradições ao viajante. Entre as muitas alegrias que nasceram, e este desconforto que ficou. Mas em boa hora tomou tal decisão, que há-de encontrar no caminho quem lhe vai salvar o ânimo. É a dona Celeste que ali está, passada a primeira esquina, sentada a ler num banquito, à sombra da parede. Veio dar um sol às pernas, cansadas de tantas lidas que já não querem andar.
A dona Celeste põe o viajante a remorder invejas, por mais que uma razão. Está a ler um livrito das suas devoções e não precisa de óculos, embora leve já na conta os seus noventa e tal anos. Além disso traz no rosto a maior serenidade que o viajante já viu, e oferece-lhe o ar mais manso que ele podia encontrar. O viajante, que a vida tornou céptico, olha para esta figura e fica sem saber o que fará do cepticismo. Diz ela que mora ali ao lado, na casa duma filha, embora tenha casa sua, muito perto. Mas não pode lá viver, porque a vida não é sempre o que esperamos dela.
Não nasceu nesta aldeia, criou-se na terra quente. Veio para cá trabalhar numa casa de comércio, com pouco mais de vinte anos, quando a terra tinha força. E quando o patrão morreu, que já era bem velho, os herdeiros viviam na cidade e entregaram-lhe o governo da casa. Eram ele as vendas do comércio, e as rendas de muitas terras, e a lã de vários rebanhos quando chegava a tosquia, e as vitelas que os pobres aí criavam à razão de meio-ganho.
Havia então um rapaz que ficara lá na aldeia e andava a requestá-la. Chamava-se ele Albino, e não viam outra coisa aqueles olhos. Mas ela ainda não estava decidida, o que mais a ocupava era a carga dos trabalhos e as obrigações que tinha. Ou talvez gostasse doutro, não sabe explicar bem, ele tinha-se ido à África e ainda lhe mandou cartas que vinham de Benguela. Mas breve pararam elas, porque apanhou uma febre e lá morreu.
Com uma tristeza assim, mais parado ficou à dona Celeste o coração. E foi no meio de tal indecisão que apareceu um rapazola, irmão do falecido, que andara em Matosinhos a servir de marçano. Deu-lhe pena o desamparo do rapaz. O Albino bem mandou dizer que dava cabo da vida se não casasse com ela. Mas quem é que levava a sério uma palavra assim?
O viajante está encantado a ouvir esta conversa, já se esqueceu dos conflitos que trazia. Senta-se numa pedra e nem desvia os olhos da figura.
Quando a vida do comércio acabou, os senhores que estavam na cidade mudaram-na de casa e fizeram-na feitora. Era a casa mais mimosa da aldeia, chamavam-lhe o paraíso. E foi então que aceitou o casamento, por mor da lida das terras, com o tal irmão do falecido em Benguela. No mesmo dia da boda, lá no povo onde ficara, foram dar com o Albino afogado num poço.
A vida da dona Celeste tem sido bem prolongada, mas não foi o que podia, nem o que merecia ser. Quem se quer fazer não pode, quem o é já nasce feito, como ela explica, serena. Criou os seus cinco filhos, que não se cansa de encomendar a Deus, e lá fizeram da vida o que souberam. Muitas vezes sente pena das sem-razões antigas de tanto mau viver, e das aflições em que eles se criaram. Mas o seu homem era assim, foi sempre um destemperado, um algoz ensoberbado que não chegou a crescer.
A dona Celeste diz estas coisas todas como se não fossem suas. Tem nos olhos a mansidão tranquila de quem já fez pelo mundo o que tinha a fazer. Não venha ele a salvar-se, não estará nela a culpa. E agora só está à espera de que Deus se lembre dela, e um dia a venha buscar.
Ao viajante vem-lhe à cabeça um turbilhão de pensamentos, nem sabe bem o que fazer com eles. Fica a olhar este corpito frágil, que veio dar um sol às pernas, encostado à parede. Queda-se silencioso, é em si mesmo que ficou a pensar. Em quantos paraísos já viu, cometem uns pecados originais e pagam outros por eles. À dona Celeste aconteceu-lhe o mesmo, que a vida não é sempre o que esperamos dela. Alguma coisa prende aqui o viajante, será porque está perto um paraíso. Mas decide ir-se embora, que veio à procura de conversa e acabou silenciado.
- Não tenha pressa de partir, não sabe a falta que faz!
- Que falta faço eu?!
(...)